A VIRTUALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS - AUTENTICIDADE E TRANSPARÊNCIA
No âmbito da unidade curricular Educação e Sociedade em Rede, do mestrado em Pedagogia do eLearning, da Universidade Aberta, é-nos proposto refletirmos sobre a autenticidade e a transparência nas redes sociais, como resultado da virtualização das relações sociais.
O Homem sempre foi, por inerência, um ser
social. Sempre teve necessidade de estabelecer relações sociais com os seus
pares. No passado, essas relações decorriam no âmbito do contacto físico, do
face-a-face, que decorriam da presença, física, das pessoas num mesmo local ou
no mesmo espaço geográfico. Atualmente, com o crescer das tecnologias de
informação e comunicação, surgem novas dinâmicas sociais, as relações não se
estabelecem apenas através do contacto presencial, mas também através do espaço
virtual, do ciberespaço. Como redere Castells (2003, p. 443)., “estão emergindo
online novas formas de sociabilidade e novas formas de vida urbana, adaptadas
ao nosso novo meio ambiente tecnológico”
Lévy (1999) reconhece o ciberespaço como
um mecanismo de comunicação interativo e comunitário, materializado como
inteligência coletiva e surgindo, assim, novos modos de socialização e de
aprendizagem. Estes novos modos de socialização e os modos com que as pessoas
adquirem e transmitem o saber são apenas possíveis pela facilidade com que a
interação decorre nesse ciberespaço. Ora, este novo espaço de interação é bem
diferente do espaço geográfico, pelo que promove novas formas de socialização, originando
uma nova cultura, a cibercultura.
“Bem-vindos
à nova morada do género humano. Bem-vindos aos caminhos do virtual.” (Lévy, 1999)
A sociedade exige de cada um de nós um comportamento socialmente correto, conforme os padrões estabelecidos, que podem variar de comunidade para comunidade. O desrespeito por esses padrões resultam em exclusão da comunidade, exclusão social.
Mas numa comunidade constituída por
pessoas com diferentes origens geográficas, diferentes crenças, diferentes
valores éticos e morais, e localizadas em diferentes espaços geográficos,
comunicando síncrona ou assincronamente, como determinar, então, quais os
padrões e regras a respeitar nessa sociedade em rede? Serão essas regras
diferentes daquelas que respeitamos na “outra” sociedade?
Recorde-se que Castells (2003) considera que as redes
são estruturas abertas a todos, desde que sejamos capazes de comunicar dentro
da rede, por tal capazes de se expandirem ilimitadamente. O autor refere ainda
que essa comunicação exige que se usem os mesmos códigos de comunicação.
No nosso entender, a convivência em sociedade exige-nos a prática da cidadania, portanto o mundo globalizado da sociedade em rede também exigirá essa cidadania, à qual nos poderemos referi como cidadania digital.
Lagoa (2016, p.33) refere que “Todos os
indivíduos vivem diferentes circunstâncias e experienciam diferentes histórias
de vida”.
A este respeito recorremo-nos de um post
no Intagram da jornalista e empresária Ana
Margarida Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce,
que criou o seu blog em 2004. É das primeiras blogers portuguesas e talvez a
primeira a viver exclusivamente do seu blog. Portanto, há cerca de um mês, a
influencer, partilhou no seu Instagram o seguinte “desabafo”.
“Acabei há pouco de responder a uma entrevista em que
tive de falar bastante sobre mim e sobre aquilo que sou. E depois pus-me a
pensar nesta coisa de ter uma imagem pública, na forma como as pessoas me
vêem, naquilo que acham que sou. Ou naquilo que cada um de nós escolhe ser
numa rede social. Apesar de andar por aqui há muitos anos, acho que me dou
muito pouco a conhecer. Mostro-vos o lado divertido, sarcástico,
despreocupado, e talvez isso passe uma falsa sensação de que está sempre tudo
bem. E a verdade é que está, na maior parte dos dias está. Mas depois há
outros em que me sinto atropelada pela vida, em que sou incapaz de tomar
decisões, em que gostava de ter alguém a ministrar-me doses saudáveis de
Propofol para me pôr a dormir sempre que não me apetecesse ter de lidar com
algumas merdas (alguém que não o médico do Michael Jackson, claro). E já sei,
já sei, não é suposto queixar-me, porque tenho saúde, emprego, família, e há
tanta gente pior do que eu e mimimimi, mas olhem, é o que é, e eu também sou
muito isto: negativa, pessimista, com uma incapacidade crónica de ver o copo
meio cheio. Há dias, alguém me dizia que sou uma pessoa má e eu, que já
ouvi de tudo e até sou bastante imune, fiquei às voltas com aquilo. Talvez
porque não ache que seja, mas às tantas a pessoa já vive tão dividida entre
o real e o digital que tudo se mistura numa imensa confusão. Para hoje é o
que temos, amanhã há-de ser outra coisa. E Propofol, alguém arranja?”
Este “desabafo” ou mesmo reflexão da jornalista
/ bloguer / influencer /empresária remete para a ideia de coexistência de
diferentes “eus”, refere viver “dividida entre o real e o digital”, mas não será
o digital uma prolongação do real? Só que num espaço diferente e com a diferença
de que a as interações decorrem e fluem a uma velocidade exorbitante, capazes
de atingir, em segundos, dezenas, centenas ou até milhares de pessoas.
No nosso entender, esta é a única
diferente entre o “real” e o “digital”. Por tal, todas as regras aplicadas na
sociedade “real” devem aplicar-se à sociedade em rede, ou “digital”.
Repare-se ainda que a jornalista refere “alguém
me dizia que sou uma pessoa má”. Este é outro dos problemas, se assim lhe podemos
chamar, do digital… esta sensação de que na internet se pode ser, fazer, dizer tudo
o que quisermos, gerando uma certa loucura digital, comparado a um "mundo
paralelo", onde podemos "ser", “dizer” e “fazer” aquilo que
quisermos.
Alguns acreditam esta postura nos faz perder
a nossa “identidade”. Nós acreditamos que esta postura faz parte da nossa identidade,
que se mostra neste contexto, da mesma forma que outras facetas da nossa
identidade se mostram noutros contextos.
Quantos estudantes boémios se tornaram
em sérios e sóbrios executivos? Será que deixaram de ser boémios ou será que
nunca foram sérios?
Nós somos vários “eus” que se adequam e
demonstram de forma diferente perante contextos e circunstâncias diferentes. Nem
todos somos exatamente aquilo que aparentamos ser. O mesmo acontece nas redes
sociais, no ciberespaço, onde esta dissimulação, pela própria natureza das
interações estabelecidas, é ainda mais fácil de decorrer. Como também é mais
fácil “apagarmos” o “eu” de alguém que interaja connosco, como refere Virilo
(2000, p.72 e 73), “A chegada deste clone… Além do mais pode fazê-lo
desaparecer.”
Numa sociedade, desde a nascença, a cada
indivíduo é-lhe associado um nome, um local e data de nascimento, uma filiação,
e depois uma série de número, número fiscal, número do passaporte, número de
aluno, etc.. Estes critérios permitem identificar uma pessoa, garantindo que
aquela é mesmo a pessoa que diz ser., garantir a sua identidade, de forma
autêntica e transparente. Mas e na rede?
Na rede também devemos ter presente esta
necessidade de identidade digital. Contudo, neste espaço torna-se mais complexo
assegurar a autenticidade e a transparência. Contudo, como refere Lagoa (2016),
os mecanismos e instrumentos de verificação ou validação dessa identidade não
estão, ainda, adquiridos, bem como a privacidade dos dados e a segurança.
O autor diferencia identidade virtual, de
autenticidade e de transparência, refletindo sobre a mesma no âmbito educação
online. Assim, compreende a identidade como o “eu” e a autenticidade como a
demonstração da veracidade do “eu”, quer dizer, a autenticidade comprova a identidade.
Já a transparência corresponderá à apresentação que se faz do “eu” e se essa
apresentação corresponde ao verdadeiro “eu”. Quanto mais próximo o “eu”
apresentado for do “eu” real, maior será a transparência. Como refere Teixeira
(2010), a minha identidade digital é
autêntica se for transparente.
Isto remete-nos para uma maior preocupação no
plano da educação online. Se um modelo de ensino presencial, com largos anos de
implementação, continua a enfrentar desafios por forma a assegurar a
transparência, esses desafios aumentam num modelo de ensino online, onde os
contactos presenciais e síncronos podem ser reduzidos, a transparência torna-se
uma verdadeira preocupação. Contudo já existem alguns mecanismos
e estratégias de autenticação para verificar a identidade, a transparência e
autenticidade.
Para além da questão a identidade,
transparência e autenticidade dos alunos, como pessoas, devemos refletir também
na questão da autenticidade da informação que recebemos através da rede.
Nunca foi tão fácil publicar informação
como hoje em dia. Nem nunca foi tão fácil aceder à informação. Qualquer pessoa,
em qualquer momento, pode enviar para a rede todo o tipo de informação que
desejar. Grande parte dessa informação, como é óbvio, não verdadeira ou é de
credibilidade duvidosa. Portanto, o problema que hoje se coloca, diferentemente
do que se colocava até ao surgimento da internet, prende-se com o excesso de
informação, como alude Edgar Morin, o “nevoeiro informacional”.
Para Baudrillard (1991), as redes
geram uma quantidade de informações que ultrapassam limites físicos, com a
capacidade de influenciar a opinião pública e a massa crítica, sendo que, para
ele, o ambiente está intoxicado.
Ou seja, a internet é um incomensurável
repositório de informação, à qual qualquer individuo com acesso pode aceder e
publicar informação. Portanto, o problema é quais as informações que são
credíveis?
Será portanto necessário que, todos
aqueles que integram esta sociedade em rede, ao acederem à informação, estejam conscientes
da necessidade em serem seletivos e
cautelosos, não aceitando tudo como verdadeiro, válido. Existem algumas
estratégias, como aceder a jornais reconhecidos, procurar informações em
repositórios de universidades, utilizar motores de busca específicos, verificar
se a fonte já foi citada e quantas vezes.
Por outro lado, este facilitismo de
acesso à informação facilita o plágio, a fraude intelectual por parte dos pouco
autênticos. É a imitação ou cópia do trabalho do outro. Esta usurpação da
propriedade intelectual sempre existiu e, se por um lado a rede veio simplificar
a sua prática, por outro também veio facilitar identificar essas práticas.
Existem vários softwares com esse fim específico, mas até uma simples pesquisa com
o Google é capaz de identificar algumas usurpações.
Mas a massificação das novas tecnologias
de informação e comunicação é recente. Nos últimos 20 anos vivenciou-se um
desenvolvimento frenético das novas tecnologias. Quantas gerações de web já
existem? Quantas gerações de telemóveis? E de computadores? Comparando com a
vida de um ser humano, 20 anos correspondem a uma geração!
As novas tecnologias desenvolvem-se
freneticamente e a sociedade não teve tempo ainda de se adequar a esta nova
realidade. É necessário que os intervenientes nos novos espaços de interação e
construtores desta nova cultura reconheçam e tenham consciência de que estes
espaços não lhes permitem tudo. As normas, regras e padrões existentes na
sociedade “real”, tal como a conhecíamos há uns 20 anos atrás, devem ser
transpostos para a interação que se realiza no ciberespaço. Bem como todos os
cuidados! Se um pai não deixa o seu filho de 10 anos ir sozinho para a escola,
com medo de que alguém lhe possa fazer mal, também não o deve deixar “viajar”
sozinho, sem qualquer controlo ou vigilância, no ciberespaço. Os perigos estão
lá, tal e qual estão na rua, no centro comercial, no café… a forma como surgem
é que é diferente.
Tal como alerta Cardoso (2006, p. 44) para a
necessidade de se desenvolver o “domínio individual das literacias necessárias,
para interagir com as ferramentas de mediação, quer das que fornecem
acesso à informação quer das que nos permitem organizar, participar e
influenciar os acontecimentos e as escolhas.”
Mas, se para Braudillard (1991) o
tempo e o espaço alteraram-se e nas redes sociais o real não existe, para nós o
ciberespaço é uma “adenda” à realidade. Por tal, é necessário educar e
educarmo-nos para esta nova realidade que vai além dos espaços e relações
físicas, muito diferente da realidade que conhecíamos até à 20 anos atrás!
A virtualização não se resume de algo
falso ou imaginário, a virtualização faz parte do mundo atual e acaba por
traduzir a dinâmica deste novo mundo, “A virtualização
é o movimento pelo qual se constituiu e continua a se criar a nossa
espécie.” (Lévy, 1999). Como refere Lagoa
(2016, p.57), “Toda a atividade gerada na Internet constitui
parte da nossa identidade…”
Referências Bibliográficas:
- Baudrillard, J. (1991) Simulacros e Simulações. 1.ª edição. Tradução Maria João da Costa Pereira. Lisboa: Relógio d´Água.
- Bauman, Z. (2005) Identidade. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Editora Jorge Zahar.
- Cardoso, G. (2006). Os media na sociedade em rede. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Cardoso, G., Baldi, V., Pais, P. C., Paisana, M., Quintanilha, T. L., Couraceiro, P., (2018) As Fake News numa sociedade pós-verdade. Relatórios Obercom.
- Castells, M. (2003). A era da informação: economia, sociedade e cultura. A sociedade em rede. Volume I, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Cunha, M. Z., Sunday, A., & Magano, J. (s.d.). A Virtualizacão das Redes Sociais Segundo o Pensamento de Manuel Castells e Pierre Levy. https://www.researchgate.net/publication/338234424_A_Virtualizacao_das_Redes_Sociais_Segundo_o_Pensamento_de_Manuel_Castells_e_Pierre_Levy
- Lagoa, M. (2016). Autenticidade na rede: estudo da identidade digital. Tese de Mestrado. Lisboa. Universidade Aberta. digital. https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/5574/1/TMPEL_AntonioLagoa.pdf
- Lévy, P. (1999). Cibercultura. Lisboa: Piaget. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Edições 34. https://mundonativodigital.files.wordpress.com/2016/03/cibercultura-pierre-levy.pdf
- Paiva, A. (2018). Participação e Partilha de Conhecimento na Sociedade em Rede – os Contextos Educacionais Online (Dissertação de doutoramento, Universidade Aberta, Lisboa, Portugal).
- Silva, R.; Carvalho, A. (2014) Amizade e a virtualização das relações humanas na sociedade contemporânea: reflexões a partir de Zygmunt Bauman. Revista Espaço Acadêmico, v. 13, n. 153, p. 01-09, 2014. https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/127025/ISSN1519-6186-2014-13-153-01-09.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Teixeira, A. (2010). Autenticidade e transparência na rede – reinventando o debate sobre o outro que eu também sou. https://pt2.slideshare.net/MPeL/my-m-pelantonioteixeira
- Virilio, P. (2000).Cibermundo: A Política do Pior. Teorema.

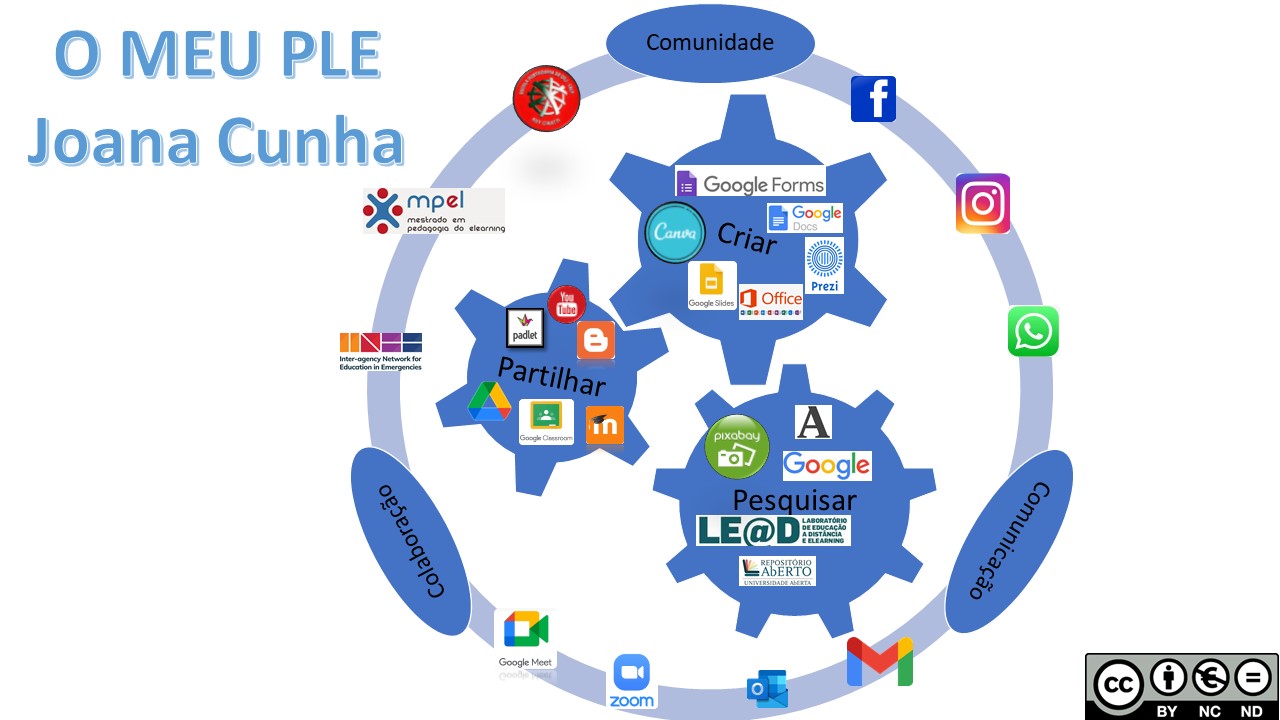
Comentários
Enviar um comentário